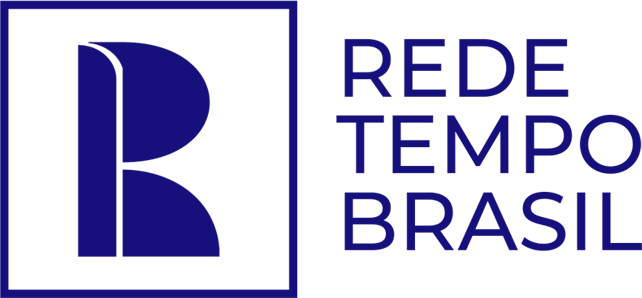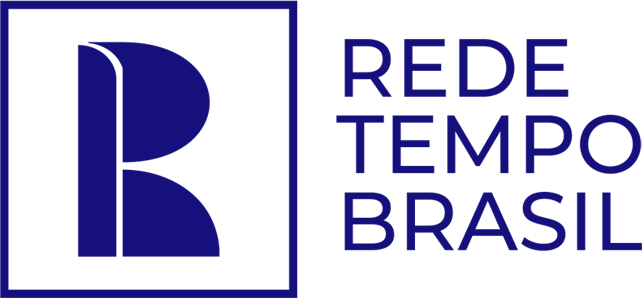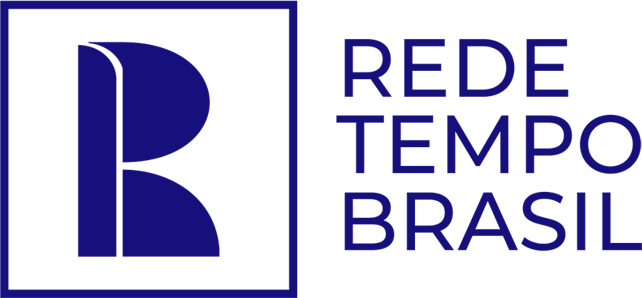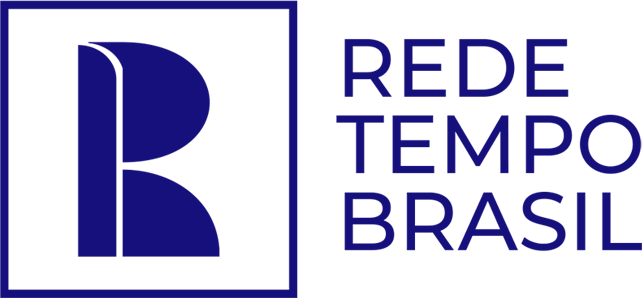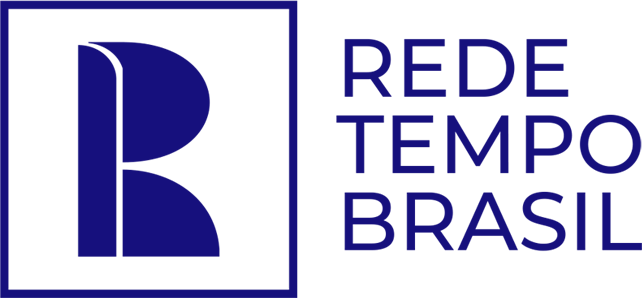Archives - Page 2
-

Dossiê - Ensino de História do Holocausto: itinerários de pesquisas
Vol. 11 No. 01 (2022)Os textos aqui reunidos nesse Dossiê foram selecionados e avaliados a partir do I Congresso Internacional sobre Ensino do Holocausto e Educação em Direitos Humanos, organizado pelo Museu do Holocausto de Curitiba em parceria com a Universidade de Pernambuco e a Universidade Federal do Paraná. Em colaboração com o Boletim do Tempo Presente, da Rede de Estudos do Tempo Presente/Brasil, optamos por fazer a divulgação dos textos num periódico acadêmico, ao invés do modelo tradicional de anais. Acreditamos que esse formato dará aos textos maior visibilidade e acesso. Foram selecionados vinte textos de autores(as) de diversas regiões do país que compõem o que aqui chamamos de “novos itinerários” de pesquisas sobre o Holocausto no Brasil. Os textos foram editados por eixo temático e serão publicados em quatro edições do Boletim do Tempo Presente, sendo essa a primeira edição de 2022.
Em outubro de 2021 o CNRS, francês, editou uma coletânea intitulada Penser les Génocides, com o intuito de atualizar o estado da arte das pesquisas sobre essas temáticas com autores de diversos países sobre os mais variados processos históricos que culminaram em crimes contra a humanidade. Seguindo as observações do historiador belga Joël Kotek: “Se o judeocídio aparece, por excelência, com um crime de genocídio, então está longe de ser único”.[1] Não há dúvidas de que todos esses eventos genocidários, incluindo o Holocausto, foram únicos sobre a leitura de uma realidade intransponível, mas comparáveis sobre seus mecanismos de destruição de grupos humanos e de pessoas. Por isso, empreende em todos os pesquisadores um enorme desafio metodológico, cognitivo, emocional e ético para análise de realidades complexas e em contexto específicos. Em oposição ao senso comum que tenta pensar ou apresentar a violência em massa por termos de gradação, acreditamos, tal qual Kotek, na necessidade de pensar sobre a ideia de “hierarquização”, levando em consideração todos os crimes não são iguais e, não sem razão, o crime de genocídio é considerado o pior dos crimes contra a humanidade.[2] Isso não nos leva a uma escala valorativa em relação a que crimes seriam mais ou menos “traumáticos”, mas ao entendimento de que não estamos falando de sofrimento ou mesmo em níveis de gravidade, mas de crimes.
Os textos aqui organizados para essa edição se dedicam ao campo disciplinar do Ensino de História do Holocausto[3], relativamente recente no Brasil, mas em franca expansão contando com pesquisadores em diversos programas de pós-graduação. O que esses cinco textos apresentam em comum é a afirmação de que ninguém “ensina” o Holocausto descomprometido. Dialogando com C. Browning boa parte da negativa em ensinar temas como o Holocausto partiu da concepção de que existem atos tão vis que nossa tarefa direta seria rejeitá-los, evitá-los para não correr o risco de entendê-los empaticamente.[4] Os autores(as), humanistas em sua formação, procuram em suas pesquisas demonstrar a necessidade de que o ensino do Holocausto rume contra a tendência narrativa da “inevitabilidade” para com isso poder se apresentar como uma ferramenta da consciência histórica ou mesmo como citando Arthur Chapman, da argumentação histórica.[5]
O texto que abre esse Dossiê é o da historiadora Franciele Becher onde o foco está nos usos e potencialidades das fontes “primárias” como ferramenta para o ensino de história dos genocídios e passados traumáticos. Seu trabalho, repleto de fontes e originalidade, apresenta os dossiês pessoais de adolescentes no Centro de Observação da Justiça francesa dos anos 1940 procurando analisar as percepções desses indivíduos, em pleno tempo de extermínio, com a guerra e o genocídio e como esses relatos podem contribuir para o campo da argumentação histórica quando se trata de ensino.
Mônica Broti em seu artigo “A verbo-visualidade da experiência da Shoah” procura investigar a diferentes formas de interpretação e representação da imagem enquanto instrumento para o ensino do Holocausto na educação básica. Com uma forte base teórica, que remonta a clássicos como Bakthin, se apropria do conceito de “verbo-visualidade” para compreender os efeitos de sentido que essas imagens do genocídio podem ter quando se trata do ensino de história.
A educadora Bruna Braz buscou nos livros “paradidáticos” as representações dos eventos históricos do Holocausto procurando entender que “momentos” eram privilegiados por tais livros e como eles auxiliam numa determinada “cristalização” da imagem que se possui sobre o Holocausto no ensino básico. Mesmo tendo escolhido textos de autores de grande renome como Alcir Lenharo, a autora tentou fazer uma breve anatomia dos textos e, mesmo de forma não intencional, acabou por realizar uma “paratradução” dos livros escolhidos, tal qual o definiu José Yustes Frías[6] da Universidade de Vigo.
Simone Rocha e Matheus Stanski tornam público, por meio do artigo, o resultado de uma intervenção pedagógica interdisciplinar com o projeto “Diário de Anne Frank: uma história pelo mundo após a II Guerra Mundial”, numa escola do Estado de Santa Catarina. O trabalho tinha como eixo norteador o conceito cunhado pela filósofa alemã Hannah Arendt de “banalidade do mal” e culminou com a elaboração de um livro pelos alunos, dando uma espécie de continuidade ao mundialmente conhecido Diário de Anne Frank. Nesse trabalho os estudantes passam a ter o protagonismo dentro do processo histórico interferindo na reescrita de um passado traumático.
A historiadora Camila Silva se dedicou a analisar formas de uso da história de Ane Frank, na sua adaptação para os quadrinhos, problematizando novas abordagens para se ensinar a Shoah. Sua ideia foi a de utilizar uma Graphic Novel para a aproximar a linguagem do público-alvo e com isso poder demonstrar a grande complexidade, no nosso entender, desses temas “socialmente vivos”.
É nesse aspecto que todos os textos aqui reunidos estão em sintonia com o que chamamos de “tradução da memória do Holocausto” para o campo do ensino. Alguns desses textos estão do campo do nível paratradutivo, tentando apresentar as estratégias na construção do processo de tradução dessa memória no ensino de história, outros caminham para o nível sociológico ou protradutivo, quando demonstram os múltiplos agentes dessa tradução, que em alguns casos são os próprios estudantes que se apropriam dessa memória a ponto de “inventá-la” e chegam ao nível metatradutivo, onde se entende que traduzir é, acima de tudo, como já afirmou José Yustes Frías, uma experiência.
Sendo assim não falamos de uma transposição[7], sendo o Holocausto uma língua a ser decifrada, mas uma experiência a ser problematizada. Acreditamos que esses textos podem auxiliar nessa difícil e necessária tarefa.
Karl Schurster[8]
Carlos Reiss[9]
Luzilete Falavinha[10]
Notas:
[1] KOTEK, Joel. Génocide, revenir à l’essentiel?. In: Penser les Génocides. Paris: CNRS, 2021, p.115.
[2] Idem, o, 116.
[3] Ver: Silva, F. C. T. da, & Schurster, K. (2016). A historiografia dos traumas coletivos e o Holocausto: desafios para o ensino da história do tempo presente. Estudos Ibero-Americanos, 42(2), 744-772. https://doi.org/10.15448/1980-864X.2016.2.23192
[4] BROWNING, C. The Origins of the Final Solution. Canadá: Bison Books, 2007.
[5] CHAPMAN, Arthur. Construindo a compreensão e o pensamento histórico através do ensino explícito do raciocínio histórico. In: ALVES, Luís Alberto Marques; GAGO, Marília. Diálogo(s), Epistemologia(s) e Educação Histórica. Um primeiro olhar. Porto: CITCEM, 2021.
[6] Ver: Frías, J. Y. (2015). Paratradução: a tradução das margens, à margem da tradução. DELTA: Documentação E Estudos Em Linguística Teórica E Aplicada, 31(4). Recuperado de https://revistas.pucsp.br/index.php/delta/article/view/22228
[7] Ver as obras fundamentais sobre paratradução e seus usos: YUSTES FRÍAS, José. Teoria de la paratraduccion. In: VILARIÑO, Xóan Garrido; YUSTES FRÍAS, José. (Eds) Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación. Berna: Peter Lang, 2022 (en prensa). Ver também: FERREIRO VÁSQUEZ, Óscar. El paraintérprete en la Real Audiencia de la Plata de Los Charcas del virreinato del Perú (1569-1575), In: : VILARIÑO, Xóan Garrido; YUSTES FRÍAS, José. (Eds) Traducción & Paratraducción I. Líneas de investigación. Berna: Peter Lang, 2022 (en prensa).
[8] Universidade de Vigo/Maria Zambrano/Grupo de Investigação em Tradução & Paratradução.
[9] Diretor do Museu do Holocausto de Curitiba.
[10] Mestranda em Educação pela UFPR e membro do Departamento de Educação do Museu do Holocausto de Curitiba.
* Imagem de divulgação: Colagem de Erika Stránská, garota presa em campo de concentração nazista
-
jul-dez: A América Latina frente a pandemia do Covid-19
Vol. 9 No. 2 (2020)A pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 (COVID-19) inseriu a humanidade em uma profunda crise sanitária, socioeconômica e psicológica, cujos efeitos políticos se demonstram imprevisíveis. O pânico decorrente da possibilidade de contração da doença afetou o bem-estar individual e coletivo, ao mesmo tempo em que gerou diversas preocupações com o futuro. Esse mal-estar, de uma sociedade sem horizonte de expectativas, levou a diversas crises no modelo de representação, das instituições políticas e das formas de organização social.
Paralelamente a este processo, a COVID-19 fortaleceu críticas às práticas econômicas neoliberais, acentuando as disparidades econômicas entre os países que compõem o sistema internacional. Ao mesmo tempo, o vírus expôs as profundas desigualdades sociais, em especial em países da América Latina, Caribe e África. A pandemia deixou em evidência, para parcelas da sociedade civil, as mazelas que envolvem o dia a dia dos segmentos sociais pauperizados, como ashabitações precárias, que tornaram o distanciamento social irrealizável, até mesmo desumano, ou os deletérios efeitos da informalidade no mercado de trabalho.
Na América Latina e Caribe, relatórios preliminares sobre os efeitos sociais e econômicos da pandemia, organizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a CEPAL, projetaram cenários desalentadores. Vislumbram-se retrações de até 23% no Comércio Internacional, 9,1% do Produto Interno Bruto (PIB) e o PIB per capita regional deve retroceder aos patamares do ano de 2010, ocasionando, assim, uma nova década perdida. A pobreza e a extrema pobreza devem elevar-se, respectivamente, em 7,1% e 4,5%. Com isso, em torno de 327 milhões de latino-americanos (52,8% da população local) estarão na condição de extrema pobreza ou pobreza ao fim de 2020.[1]
A pandemia também impactou as Relações Internacionais. O cooperativismo e o multilateralismo consistiram em um dos seus efeitos, como observamos no apoio às iniciativas realizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate à pandemia. No entanto, em paralelo, notamos uma ampliação das disputas entre as potências internacionais. A “corrida global” para a descoberta de uma vacina, o fortalecimento da autonomia do Estado-Nação e o robustecimento das tensões entre norte-americanos e chineses, causadas pela narrativa de Donald Trump acerca da “cupabilidade chinesa” pela pandemia, evidenciaram isso.
O Sars-Cov-2 demonstrou os efeitos da racionalidade moderna, impulsionada pelo neoliberalismo e globalização, que submeteu as sociedades globais à espoliação, à reprodução do capital e a um desprezível individualismo. Assim, esse dossiê, que atesta os esforços das Universidades em entender o complexo presente, buscará debater os múltiplos impactos econômicos, sociais, políticos, psicológicos, educacionais e culturais causados pela pandemia nos dez artigos que o compõem.
Em Pandemia e Cosmovisões - Solidão, Medo e Morte Maria Teresa Toribio Brittes Lemos realiza um breve histórico das epidemias a partir de uma narrativa que percorre suas ocorrências da Antiguidade à COVID-19. A autora ressalta sentimentos, como a angústia, o medo e a solidão, ocorridas em outros momentos pandêmicos da história da humanidade e destaca os efeitos desses eventos nas memórias coletivas e nos imaginários sociais com o intuito de observar possíveis sequelas, individuais e coletivas, da atual pandemia para as nossas sociedades.
Johannes Maerk, em Será la pandemia de Covid-19 el fin del neoliberalismo?, aborda os impactos socioeconômicos e políticos da crise da década de 1929 nos países ocidentais, a teoria keynesiana e o modelo de Indústrias de Substituições de Importações (ISI). Ademais, o artigo analisa as motivações para a implementação das práticas políticas e econômicas neoliberais a partir da década de 1970 em diversos países e traz pertinentes reflexões sobre a possibilidade de surgimento de um modelo alternativo a este, em virtude dos impactos econômicos e sociais da atual pandemia.
No artigo América Latina e os Impactos Estruturais Ocasionados pela Covid-19, Paulo Maurício do Nascimento abordou os resultados estruturais da pandemia em nível global e, em especial, na América Latina e Caribe. Destacam-se a abordagem acerca das suas consequências econômicas e as ações governamentais adotadas nos seguintes países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Equador, México, Paraguai e Peru.
Oscar Barboza Lizano, em Disputas Imperiales: Mirares de la pandemia COVID-19 desde Centroamérica, avaliou os impactos comerciais, políticos e diplomáticos decorrentes da pandemia. O artigo tem o mérito de analisar os seus efeitos nos espaços centro-americanos e caribenhos, além de tecer breves considerações sobre as conjunturas de países que enfrentaram recentemente um ciclo de instabilidade política, como Bolívia e Chile. Além disso, há uma importante avaliação das disputas entre China e Estados Unidos no sistema internacional, aspecto este relevante em virtude da recente guerra comercial entre as duas superpotências.
Alberto Dias Mendes, em Pandemia, Cuba e a revolução solidária, avalia as repercussões da COVID-19 na China, Europa e na América Latina e Caribe a partir de uma minuciosa comparação entre o número de casos e óbitos em países selecionados entre março e setembro de 2020. O autor localiza, ainda, a pandemia e os seus efeitos como parte de uma crise civilizatória e ressalta o papel das Brigadas Médicas Henry Reeve no combate interno ao vírus e em ações de solidariedade internacional.
Em A pandemia da COVID-19 e as mudanças na atuação docente: o trabalho em casa como (falta de) estratégia didática, José Lúcio N. Jr e Patrícia Mª P. do Nascimento abordaram os efeitos da pandemia na prática docente e na sala de aula. Ressalta-se a importante diferenciação entre o Ensino à Distância e o Ensino Híbrido, este imposto à prática docente em decorrência da pandemia e que é baseado na ampla utilização de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, aos quais grande parte dos docentes não estava (ou está!) habituada. O trabalho tem o mérito de trazer pertinentes reflexões para educadores e setores da sociedade civil que, hoje, preocupam-se com os rumos da educação brasileira, sobretudo do setor público, em um momento de inviabilidade de aulas presenciais e de acefalia do Ministério da Educação.
André Luis Toribio Dantas, em Educação Remota em um contexto pandêmico: Isonomia e Universalidade - Educação Pública/RJ, examinou os impactos da COVID-19 na educação pública do Estado do Rio de Janeiro. As dificuldades de implementação do Ensino Híbrido motivadas, entre outras razões, pelo não acesso dos estudantes à internet e plataformas digitais, e os resultados da suspensão das aulas presenciais na comunidade escolar estiveram entre alguns dos elementos que compuseram as pertinentes reflexões do autor sobre as repercussões da pandemia no ensino público.
No artigo Povos Indígenas do Brasil: Um novo capítulo de uma velha história, Aimée Schneider Duarte avaliou os efeitos da COVID-19 sobre as populações indígenas brasileiras e as medidas implantadas pelo governo de Jair Bolsonaro na mitigação dos impactos da pandemia sobre os nossos povos originários. Igualmente, há uma análise histórica da participação indígena e dos seus apologistas na Constituinte de 1987-1988 e algumas medidas legais implantadas para a sua proteção.
Em Possíveis cidades pós-pandêmicas: COVID-19 e a passagem da cidade modernista à cidade “não moderna”, Rodrigo Agueda analisou as consequências sociais da pandemia e as suas possíveis influências no meio urbano. O artigo aponta que os aspectos excludentes das grandes cidades devem permanecer, apesar de, mundialmente, existirem debates relevantes acerca do aproveitamento do contexto pandêmico para se debater mobilidade urbana e organização espacial das cidades.
Anderson Barbosa Paz em O Papel dos Estados da América Latina em Tempos de Pandemia Global a partir do pensamento de John Keynes examinou alguns elementos da teoria keynesiana e a importância de existência de políticas públicas para mitigar os efeitos da pandemia entre as populações latino-americanas.
_________________________________________________________________________
Prof. Dr. Érica Sarmiento[2]
Prof. Dr. Karl Schurster[3]
Prof. Dr. Rafael Araujo[4]
--[1] As informações aqui inseridas foram retiradas do Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe - Impacto económico y social. Disponível em: https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 Acesso: Nov/2020.
[2] Professora adjunta de História de América da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Bolsista Produtividade CNPQ nível 2, pesquisadora Jovem Cientista Nosso Estado-FAPERJ (2014-2017; 2017-2020). É coordenadora do Laboratório de Estudos de Imigração (Labimi) e coordenadora do mestrado do Programa de Pós Graduação em História (UERJ). Pós-doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em história pela Universidade de Santiago de Compostela na área de América e Contemporânea. Foi Professora visitante no Instituto de Estudos da América latina (ILAS), Universidade de Columbia (Nova York) e na Universidade de Santiago de Compostela.
[3] Professor Livre Docente da Universidade de Pernambuco. Pós Doutor pela Freie Universität Berlin. Organizou juntamente com Francisco Carlos Teixeira da Silva e com Francisco Eduardo Alves de Almeida a obra Atlântico: a história de um Oceano (Civilização Brasileira), vencedora do prêmio jabuti (2º lugar em Ciências Humanas 2014). É professor permanente do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Pernambuco. Foi bolsista do Instituto Yad Vashem em Jerusalém/Israel (2014) onde desenvolve pesquisa sobre a memória do Holocausto, recebendo nova bolsa de estudos em 2018. É Diretor de Relações Internacionais, exerce a coordenação científica da EDUPE/UPE e é Coordenador Acadêmico do Mestrado Profissional em Ensino de História/ProfHistoria - UPE.
[4] Professor Adjunto de História da América da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC)/UFRJ. Doutor em História pelo PPGHC/UFRJ (2013). Participa como historiador convidado do projeto "1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War" organizado pela Freie Universität e pelo Friedrich-Meinecke-Institut. Membro do Grupo de Trabalho (GT) de Ensino de História e Fontes da ANPHLAC. Pesquisador associado ao Laboratório de Estudos da Imigração (LABIMI)/UERJ e ao Grupo de Estudos Sociocultural da América Latina da Universidade de Pernambuco (UPE).
-

Jan-Jun
Vol. 9 No. 1 (2020)Keeping its multidisciplinary character, the Boletim do Tempo Presente brings in its first edition of 2020 five articles and two reviews from different areas of knowledge.
The initial article, done through a partnership with a professor at the Central University of Finance and Economics in China, brings a discussion about the format of scholarship allocation for students from the various Confucius Institutes around the world. Following, Professor Sandra Simone surveys and analyzes the issue of accessibility in Recife, under an anthropological perspective.
Then, in the area of geography, is presented the use of geotechnologies to expand knowledge in the area. The fourth article deals with the living conditions of different family arrangements, highlighting a socioeconomic view of the Brazilian population.
Finally, two articles are presented on the area of public administration and on the importance of water quality control for use in irrigation.
Right after the articles, two reviews of manuscripts from the history area are presented, allowing a prior analysis of these materials for interested professionals and students.
Therefore, there is a need for multidisciplinary discussions that can analyze the different issues addressed by Brazil and the world through different, but complementary, perspectives.
__________________________________________________________________________________
Prof. Ph.D. Ademir Nascimento
-

Out - Dez 2019
Vol. 8 No. 4 (2019)A aproximação entre a Universidade de Pernambuco e a CUFE (Universidade Central de Finaças e Economia da China) vem trazendo grandes resultados para o meio acadêmico, em especial na área de Administração.
Tal aproximação só foi possível devido ao trabalho do Instituto Confúcio da UPE, que atua em Pernambuco há mais de 6 anos e já permitiu que diversos alunos dos cursos de línguas e cultura pudessem conhecer a China.
Essa rica oportunidade culminou na realização de dois Seminários Internacionais com pesquisadores brasileiros e chineses apresentando suas pesquisas e realizando um intercâmbio de conhecimento. Para ambos os lados, essa é uma parceria proveitosa, pois permite que se conheça mais sobre o mercado de cada região e como parcerias econômicas vem sendo desenvolvidas pelos dois países.
Nesta edição apresentamos artigos sobre a China focados nos diversos aspectos que as pesquisas vem focando recentemente.
_________________________________
Prof. Dr. Ademir Macedo Nascimento
-

Jul - Set 2019
Vol. 8 No. 03 (2019)A autoavaliação institucional é um pre-requisito básico para a melhoria contínua das instituições de ensino superior.
Neste sentido, as faculdades e universidades de Pernambuco, desenvolvem a 7 anos um fórum para troca de experiências e de divulgação de boas práticas.
Nesta edição, são publicados os melhores artigos apresentados neste evento, além de outros artigos do II Seminário Internacional Sino-Brasileiro.
___________________
Prof. Dr. Ademir Macedo Nascimento
-

Edição Abr./Jun. 2019
Vol. 8 No. 02 (2019)As relações entre Brasil e China vem se desenvolvendo a passos largos na última década. Com o intuito de divulgar a língua e a cultura chinesa, o governo chinês desenvolver parcerias com universidades ao redor do mundo para a criação de Institutos Confúcio.
Em Recife, a Universidade de Pernambuco desenvolveu uma próspera parceria ao longo de mais de 6 anos com o Instituto Confúcio e com a CUFE (Universidade Central de Finanças e Economia), tendo um Seminário Internacional que conta com a participação de diversos pesquisadores dos dois países.
Nesta edição especial, são publicados parte dos artigos apresentados no evento, dando destaque aos da área de economia e de tecnologia.
______________________________________
Prof. Dr. Ademir Macedo Nascimento
-

Edição Jan-Mar/2019
Vol. 8 No. 1 (2019)O Laboratório de Estudos do Tempo Presente, responsável pela revista eletrônica trimestral Boletim do Tempo Presente, com muita satisfação, informa a publicação de sua nova edição.
Dedicada a artigos livres, oriundos de pesquisas acadêmicas em diferentes níveis de formação essa edição tem como base a divulgação e ampliação do conhecimento científico multidisciplinar. Iniciamos o editorial com um texto sobre a relação entre cinema e história que usa como base uma série de streaming sobre o controverso caso do oficial Nazi Adolf Eichmann. O texto seguinte trata de Sergipe na Segunda Guerra Mundial, especificamente com documentação da imprensa da época procurando narrar o dia-a-dia do intenso debate sobre o Nordeste no decorrer do conflito. Logo após é apresentado ao público as relações entre o livro didático e a história de um período de exceção no Brasil, o Estado Novo, com foco teórico nas representações. O próximo ensaio trata de uma querela contemporânea: é o nazismo um fenômeno de esquerda ou direita? Com esse tema o autor debate as principais correntes e como essa disputa pela memória do passado se tornou atual. O professor Dilton Maynard e a professora Andreza Maynard discorrem sobre um dos temas de maior destaque quando se trata do Nordeste na Segunda Guerra Mundial que é o cotidiano das cidades que tiveram embarcações afundadas por submarinos alemães. O texto, além de original, levanta uma documentação extremamente importante sobre a questão. Por fim, reforçando nosso caráter multidisciplinar temos um texto da área jurídica que faz um estudo detalhado do ponto de vista da lei sobre a responsabilidade civil por infidelidade conjugal e um texto na área de inovação para micro e pequenas empresas.
Desejamos a todos uma excelente leitura!
-

Edição Especial - Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação
No. 12 (2018)Editorial: O impacto da tecnologia da informação na sociedade contemporânea
Por Ademir Nascimento [1]
As tecnologias de informação e comunicação vêm mudando a maneira como nos relacionamos, tanto a nível individual como em relação às organizações.
Para discutir esse tema, o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Sistemas de Informação (NEPSI) da UFPE vem promovendo desde 2012 o Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação (SBTI).
Na edição de 2018, realizada em Recife, o evento teve como tema "The Shadow IT: a tecnologia que não se vê fazendo o que se usa" e parte dos artigos aprovados no evento está sendo publicado neste periódico em edição especial.
Notas
[1] Professor Adjunto da Universidade de Pernambuco. E-mail: ademir.nascimento@upe.br
-

ISSN 1981-3384
No. 11 (2016)EDITORIAL: ANTIGAS E NOVAS REFLEXÕES PARA A FORMAÇÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL
Por Elizabeth da Silva Alcoforado Rondon[1]
Sandra Simone Moraes de Araújo[2]
Em maio de 2015 aconteceu em Recife a II Jornada Nordeste de Serviço Social (JNSS), evento que nos últimos dois anos vem ocupando espaço na agenda das escolas de serviço social do nordeste do Brasil. É um congresso que visa fortalecer e difundir a produção de conhecimento na área de Serviço Social e áreas afins, de maneira que contribua com o intercâmbio acadêmico e institucional, tanto em âmbito local quanto regional, com enfoque na formação, pesquisa e prática profissional do Assistente Social.
A primeira edição da JNSS aconteceu em 2014 na cidade de João Pessoa e contou com a participação de pesquisadores, docentes, discentes de graduação e de pós-graduação, profissionais, grupos e redes de pesquisa de diferentes instituições, provenientes de todo o Nordeste. Essa multiplicidade de olhares contribuiu para o intercâmbio acadêmico e institucional na área do Serviço Social e afins.
Nessa segunda edição, contamos com mais de 163 trabalhos inscritos, dos quais, 141 foram aprovados, sendo 94 artigos e 47 pôsteres. O número expressivo de trabalhos apresentados demonstra um fortalecimento da pesquisa no campo do Serviço Social e de áreas afins e que deve ser estimulado nas instituições por meio de eventos como a JNSS. Os temas das discussões estiveram direcionados para a reflexão sobre a interdisciplinaridade, formação profissional, questões urbanas e os desafios para o projeto ético político do profissional em Serviço Social.
Esta edição do Boletim do Tempo Presente traz algumas das abordagens que foram debatidas nas mesas redondas ocorridas durante o evento. Iniciamos com textos de Edilene Pimentel e Josiane Santos que contribuem para o debate da questão social na contemporaneidade. Em seguida temos a discussão sobre ensino superior nas dimensões do trabalho e da questão indígena abordados nos textos de Roberto Rondon e de Diva Vasconcelos, respectivamente. Por fim temos a reflexão sobre abrigos para criança e adolescente em Alagoas de autoria de Niejda Dantas.
Esta edição do Boletim do Tempo Presente conta ainda com três resenhas. A primeira, de autoria da mestranda em educação pela Universidade de Pernambuco, Helena Albuquerque, constrói uma análise da obra Devagar e simples: Economia, Estado e Vida contemporânea de André Lara Resende. Seguida pela análise da obra de Sônia Rocha, Transferência de renda no Brasil: O fim da pobreza? -, construída por Phillipe Bastos, mestrando em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável/UPE. Por fim, contamos com a colaboração de Thales Bentzen, mestrando em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável/UPE, que analisa o livro A Evolução do Capitalismo, de autoria de Maurice Dobb.
Notas
[1] Professora Assistente da Universidade de Pernambuco. E-mail: Elizabeth.alcoforado@upe.br .
[2] Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco. E-mail: Sandra.araujo@upe.br .
-

ISSN 1981-3384
No. 10 (2015)DOSSIÊ REVISÃO DA CIVILIZAÇÃO: ETNOCENTRISMO, EVOLUCIONISMO E CONCEITOS EM HISTÓRIA
SOMOS TODOS SELVAGENS: O CONCEITO DE CIVILIZAÇÃO, A CRÍTICA HISTORIOGRÁFICA E O ENSINO DE HISTÓRIA
Por Kalina Vanderlei Silva[1]
O conceito de civilização, desde o momento de seu surgimento com os filósofos iluministas defensores da ideia de progresso, estabeleceu-se na historiografia ocidental como uma das mais arraigadas noções, apesar de suas claras alusões etnocêntricas. Mas cada vez se torna mais claro, à luz das críticas e percepções atuais, o quanto a ideia de civilização expõe o ‘outro’, identificando-o inevitavelmente como ‘bárbaro’, ‘selvagem’, ‘inculto’, e por isso, pelo menos desde a segunda metade do século XX, essas palavras e as concepções nelas envolvidas têm sofrido um verdadeiro bombardeamento teórico, originário de frentes tais como a Sociologia, a Linguística e a Antropologia. No entanto, apesar disso, muitos ainda são os historiadores que continuam a cultivar os princípios evolucionistas envolvidos na definição de civilização. Princípios sempre associados, de forma mais ou menos implícita, a noções de progresso, evolução social, ‘altas culturas’ (que por sua vez alude à existência de ‘baixas culturas’); tudo isso remetendo a uma crença na existência dos civilizados e dos ‘outros’, aqueles considerados carentes de cultura, de Estado, de história.
Entretanto, nem todos aceitam essa situação de forma acrítica, e muitos são os historiadores e cientistas sociais que atualmente tentam fugir dos tradicionais etnocentrismos através de um investimento na historicização de conceitos. Ou seja, na consideração de que as palavras têm história e que, na medida em que colocamos cada uma em seu devido contexto de produção, podemos começar a entender melhor seus significados e desconstruir aquelas noções que os naturalizam. Dessa forma, civilização e progresso perdem seu status de fenômenos inevitáveis nas sociedades humanas, da mesma forma que uma sociedade estatal deixa de ser entendida como naturalmente ‘melhor’ que uma tribal. Assim, partindo dessas premissas, elaboramos o presente dossiê, procurando reler o conceito de civilização a partir de diferentes temas, sempre almejando, em última instância, derrubar evolucionismos e etnocentrismos arraigados.
Nosso primeiro artigo faz isso se debruçando sobre o conceito de civilização no Direito Internacional. Nele, Laura Bono e Daniela Rebullida, ambas da Universidad Nacional de la Plata, visitam fontes do Direito Internacional para questionar os significados que o mesmo atribui à expressão ‘nações civilizadas’: uma fórmula basilar nas relações internacionais, visto que todo o conjunto de princípios gerais do Direito Internacional apenas é aplicável a esse conjunto de países, excluindo de sua proteção e jurisdição quaisquer territórios considerados ‘incivilizados’. Dando prosseguimento, mergulhamos na observação de atores sociais classicamente associados aos ‘selvagens’, os índios. E é procurando desconstruir essa associação que Edson Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, retraça a trajetória das ideias de evolução e progresso no Ocidente, desde o século XIX, analisando como as mesmas influenciaram a construção de uma certa imagem de ‘índio’, ainda hegemônica entre o senso comum e o Estado brasileiro, e influente mesmo sobre cientistas sociais de renome, como Darcy Ribeiro. Mas, indo além, ele dialoga com as aquelas perspectivas históricas e antropológicas, iniciadas na transição do século XX para o XXI, que não se preocupam em definir o lugar do índio na civilização, mas sim em desconstruir essa oposição entre ‘civilizados’ e incivilizados. Enfatizando assim a percepção de que é inútil discutir quem é e quem não é civilizado, pois a própria palavra é excludente e sempre vai pressupor a definição de alguém ‘inferior’.
Realmente, os diversos povos nativos americanos, sempre generalizados baixo o conceito de índio, forneceram alguns dos elementos fundamentais para a definição clássica de selvagens. Razão pela qual se torna tão importante entendermos tanto suas sociedades, quanto a construção dos discursos históricos oitocentistas e novecentistas sobre elas. Com isso em mente é que Karl Arenz e Frederik Matos, da Universidade Federal do Pará, voltam seu olhar para o século XVII, para inquirir sobre as ações de uma das mais influentes instituições da colonização da América portuguesa, a Companhia de Jesus, analisando especificamente as práticas jesuítas que objetivavam ‘tirar os índios da selva’, ou seja, práticas consideradas civilizatórias pela historiografia. Mas os autores não querem simplesmente fazer uma narrativa da história jesuíta, e sim pesar suas práticas em conjunção com a própria historiografia, a verdadeira responsável por analisá-las enquanto civilizatórias. Isso porque, segundo os autores, o conceito de civilização não foi usado pelos jesuítas no século XVII, e se suas ações colonizadoras são entendidas hoje como civilizatórias isso ocorre porque elas assim foram definidas pela própria historiografia. Por outro lado, eles não esquecem que outras noções, que nos séculos posteriores iriam integrar os discursos civilizatórios, já perpassavam os discursos e ações das missões jesuíticas amazônicas, instituições de fronteira que se contrapunham aos ‘sertões’ habitados por índios, vistos como espaços caóticos de gente ‘bárbara’. E é ainda pensando o mundo colonial que Suely Almeida, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, discute os problemas conceituais em torno das mestiçagens coloniais. Em seu texto, a autora critica o discurso clássico segundo o qual africanos e indígenas estiveram passivos nas ações colonizadoras. Um discurso que apresenta negros e índios apenas como vítimas, e como tal sem força ou atitude no processo histórico. Ao mesmo tempo, a autora discute também as possibilidades que os estudos das mestiçagens oferecem a uma história crítica, entendendo essas mestiçagens como fenômenos construtores das sociedades da Idade Moderna, sempre considerando as diferentes negociações e estratégias promovidas pelos distintos atores sociais, inclusive escravos e forros durante os séculos XVII e XVIII. Uma abordagem que tem o mérito de retirar dos europeus a autoria absoluta da colonização.
Assim, entre Direito Internacional, história indígena, colonização e mestiçagens, procuramos despertar algumas inquietações mais do que necessárias para os estudos dos processos históricos ocidentais. Inquietações muito influenciadas pelo pensamento crítico de historiadores e antropólogos como Serge Gruzinski, John Manuel Monteiro, e do desabrido e controverso Pierre Clastres.
Esse antropólogo francês, cuja obra principal foi escrita nas décadas de 1960 e 1970, causou celeuma com suas ideias, baseadas em estudos etnográficos realizados junto a grupos indígenas sul-americanos, nas quais criticava continuamente as noções ocidentais acerca da inevitabilidade do Estado enquanto fenômeno social e histórico. Muito debatidas em seu tempo, essas teses caíram em um ostracismo a partir da década de 1980, principalmente por estarem fundamentadas no que muitos consideravam ser a visão idealista e romântica de seu autor.[2] Mas com a virada para o século XXI, as conjunturas políticas internacionais começaram a mudar, fazendo com que o até então inatacável modelo de Estado começasse a esmorecer, e despertando um renovado interesse de antropólogos e cientistas sociais na obra de Clastres, justamente por aquelas mesmas ideias que antes o fizeram parecer romântico e idealista. Um idealismo encarnado principalmente na defesa de que o Estado não representava, ao contrário do que muitos gostariam de pensar, a etapa mais evoluída da humanidade, e nem mesmo era inevitável. Uma defesa que hoje entra em sintonia com a preocupação cada vez maior com os destinos do Estado enquanto modelo liberal, e com a possível existência de modelos alternativos ao Estado, modelos de ‘contra-Estado’,[3] nas sociedades ocidentais.
Por outro lado, se as teses de Clastres falam muito acerca de nossas sociedades contemporâneas, elas também criticam de forma veemente a postura hegemônica nas Ciências Sociais acerca das sociedades indígenas, sempre descritas como sociedades ‘da falta’: sociedades sem escrita, sem Estado e sem história.[4] Foi contra isso que ele escreveu toda sua obra – cuja pedra basilar é a coletânea A Sociedade contra o Estado, cuja primeira edição data de 1974 – descrevendo, por exemplo, as ferramentas usadas pelos tupinambás, nos séculos que precederam à conquista europeia, para evitar o surgimento do Estado; ou como muitas culturas consideradas ‘de subsistência’, e que são sempre associadas à pobreza e escassez, de fato produziam mais do que o necessário para viver, e aproveitavam muito tempo livre.[5] Dessa forma, ao mesmo tempo que suas descrições etnográficas e análises teóricas procuram descortinar estruturas e fenômenos sociais em diferentes sociedades indígenas, elas vão deixando dolorosamente claros os preconceitos existentes nas Ciências Sociais modernas, para as quais, a despeito de todas as reiteradas afirmações de objetividade, o modelo da sociedade estatal industrial e pós-industrial de origem europeia é o máximo alcançado pela humanidade, e deve servir de base para todas as outras, a serem julgadas a partir do quão parecidas ou não elas são a esse modelo.
Mas apesar do interesse renovado na obra de Clastres, assim como outras posturas críticas defendidas por autores como Serge Gruzinski e John Manuel Monteiro, as noções civilizatórias continuam fortes e hegemônicas hoje, presentes em discursos historiográficos, antropológicos e muito constantes na mídia e no ensino de História.
Assim é que ainda convivemos com discursos sobre a descoberta da América por Colombo, e do Brasil por Cabral; ainda consideramos que os ‘índios’ desapareceram da história; que os escravos foram apenas vítimas passivas da colonização; e ainda usamos a história europeia como parâmetro para a história mundial. E assim vão se reproduzindo os mesmos discursos etnocêntrico, pois como já dizia Marc Ferro as imagens que temos de outros povos dependem muito da história que nos é contada quando crianças.[6] Então, enquanto continuarmos ensinando sobre sobre culturas ‘mais desenvolvidas’, estaremos relegando às outras, ditas ‘menos desenvolvidas’, aos status perpétuo de bárbaros, de atrasados, de ignorantes.
Em tudo isso, o entendimento do processo de colonização das Américas assume um lugar central, podendo contribuir para a desconstrução desses discursos etnocêntricos. Pois se, de um lado estão as teses tradicionais que afirmam que as sociedades indígenas foram facilmente conquistadas pela superioridade cultural europeia traduzida em armamentos, de outro estão aqueles estudos mais recentes, como os de Mathew Restall, que trazem à tona velhos documentos que mostram que os responsáveis pela derrocada de impérios indígenas no México pré-colonial foram outros estados indígenas, e não os espanhóis. [7] Por sua vez, contra aquela visão de vitimização para a qual africanos, afro-americanos e descendentes nas Américas foram sempre subservientes vítimas trágicas de processos e agentes históricos europeus, a ponto de terem sido libertados por esses últimos, estão os trabalhos de autores como Eduardo França Paiva e João José Reis, que mostram o quanto esses personagens interagiam com as estruturas coloniais e escravistas, o quando negociavam e reagiam, estabelecendo seus próprios processos históricos.[8]
Hoje vivemos uma situação paradoxal, no que diz respeito a nossas interpretações da história do Ocidente, especialmente das américas: por um lado, temos um crescente número de cientistas sociais que olham para o passado e veem mais do que descobertas europeias, índios desaparecidos e escravos submissos. Por outro, continuamos a ensinar sobre a ‘descoberta’ do Brasil, a abolição da escravidão pela Princesa Isabel, a conquista do México por Cortez, sobre as ‘altas culturas’ e as sociedades ‘mais desenvolvidas’ – em geral europeias ou muito similares às europeias – sempre tentando ignorar os outros. Mas o que realmente aprendemos ao tentar estudar tupinambás, aymarás, cherokees e bantos a partir de conceitos construídos para a análise do império romano? E quanto da nossa própria identidade nacional podemos estabelecer, ou compreender, enquanto toda nossa história é medida a partir da Europa ocidental? A verdade é que, por mais que queiramos, os padrões e medidas clássicos da Civilização não nos abarcam – se é que de fato abarcam alguém. E assim, enquanto insistirmos neles, teremos que admitir o fato de que somos, de fato, todos selvagens.
Notas
[1] Professora da Universidade de Pernambuco.
[2] SZTUTMAN, Renato. Introdução: Pensar com Pierre Clastres ou da atualidade do contra-Estado. Revista de Antropologia, V. 54, N. 2 (2011), USP. pp. 557-576.
[3] Em artigo publicado em dossiê acerca da obra de Clastres, por exemplo, Márcio Goldman afirma que “não há nenhuma razão para imaginar que os mecanismos “contra-Estado” descobertos por Pierre Clastres nas sociedades indígenas ameríndias tenham sua existência limitada a esse “tipo” de sociedade”, o que ilustra bem as preocupações dos novos comentaristas com a obra de Clastres. GOLDMAN, Marcio Pierre Clastres ou uma Antropologia contra o Estado. Revista de Antropologia, V. 54, N. 2 (2011), USP. pp. 578-599.
[4] Cf. CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado – Pesquisas de Antropologia Política. São Paulo, Cosac & Naify, 2003. P. 208.
[5] Idem, p. 211.
[6] FERRO, Marc. A Manipulação da História no Ensino e nos Meios de Comunicação. São Paulo: IBRASA. 1983.
[7] RESTALL Matthew. Sete mitos da Conquista Espanhola. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
[8] PAIVA. Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia. Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte, Ed. UFMG. 2001; REIS, João José; SILVA, Eduardo. Negociação e conflito – a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das Letras. 1999.
-

ISSN 1981-3384
No. 09 (2014)1964: DOCUMENTOS DE UMA HISTÓRIA
Por Francisco Carlos Teixeira Da Silva
Professor Titular de História Moderna e Contemporânea/UFRJ/UCAM
Membro da Comissão Nacional Memórias Reveladas.
O Golpe de 1964, sua natureza e suas características básicas, começa somente agora, cinquenta anos depois do ocorrido, a ter sua história reconstruída de forma rigorosa e diversificada. Logo após o fim do Regime, entre 1984 e 1985, proclamada a “Nova República” por Tancredo Neves (em 1984), “vencidos” e “vencedores” concordavam em um ponto: “virar a página da História”. Tratava-se, ou ocultava-se, sob tal fórmula, de uma permissão e um desejo de “esquecer” os vinte anos de arbítrio, de autoritarismo e censura, pontuados por torturas, mortes e desaparecimentos. Para os “vencidos” estes vinte anos teriam sido necessários, e um dever patriótico, para o reordenamento do país em face da corrupção, inépcia administrativa e de “comunização” das instituições nacionais. Ao longo do tempo, a ordem destas premissas da “Revolução de 1964”, serão reequilibradas, ora com ênfase na “inépcia” (em especial João Goulart, o presidente deposto em 1964), ora com maior acento na “comunização” do país. Ante a dificuldade de focar com objetividade cada um destes “princípios fundadores” do Regem-me de 1964, muitos dos seus atores buscaram no chamado “clima da Guerra Fria” (como em “O Globo”, em 31 de março de 2014), a explicação plausível para a interrupção de um governo constitucional e eleito democraticamente. Esmiuçar, documentar, testar, criticar tais “hipóteses” seria voltar a 1964, tratar-se-ia de “revanchismo” ou “reescrever” a História, afirmariam seus defensores. Aqui, esqueciam-se exatamente a natureza do procedimento básico do historiador: voltar ao passado, reexaminar os fatos, questionar as razões estabelecidas e criticaras fontes.
Para os “vencedores”, por sua vez, em sua ampla maioria em 1984, “esquecer” o passado recente era um artificio fundamental para garantir a própria continuidade do processo democrático, evitando o risco de ruptura presente na possibilidade de levantar as responsabilidades pela ruptura democrática de 1964, pelas torturas e desaparecimentos e pela inépcia administrativa e corrupção, em especial nos últimos anos do regime (dívida externa, obras superfaturadas, conflitos de interesses, etc.).
Assim, para “vencidos” e “vencedores”, em 1985, o “esquecimento”, expresso de forma lapidar na Lei da Anistia de 1979 e sua reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, construía-se no próprio fundamento da nova democracia. Importava, desta forma, em deixar para trás os fatos característicos e a própria natureza da ditadura, evitando que os bolsões “sinceros, mas radicais” do regime, colocassem em risco a nova e frágil democracia.
Da mesma forma, a composição das elites dirigentes da “Nova República”, em especial a chamada “Aliança Democrática” – formação dos partidos com Frente Liberal, ex-ARENA e ex-PSD, partido, até então, de apoio à Ditadura; PMDB, a liderança de oposição ao Regime de 1964 e sua dissidência, o PSDB, entre outros – impunha necessariamente um limite ao processo de revisão da História e de estabelecimento de responsabilidades. Assim, nomes fundamentais da Ditadura, começando pelo novo presidente, José Sarney (1930), e os condestáveis da Nova República, como Antonio Carlos Magalhães (1927 - 2007), Marco Maciel (1940), entre outros, tinham sido figuras de proa da Ditadura. Como estabelecer responsabilidades de um regime, quando a própria “Nova República”, era uma herança, e sob certa forma – como no protagonismo de vários atores – uma continuidade do regime decaído?
Desta forma, explicar-se-ia a longa, e sempre incompleta, transição do Brasil para a democracia. Um regime de transição tutelado, onde os próprios militares assumiriam papéis fundamentais na direção, ritmo e extensão da democracia – desde Ernesto Geisel (1907 - 1996) e sua abertura “lenta, gradual e segura” até o papel fundamental do general, e ministro, Leônidas Pires Gonçalves (1921), na presidência José Sarney (1985 - 1990). Por tais razões, a democratização do país e de suas instituições (a alta burocracia do Estado, as polícias, o sistema tributário e judicial, entre outros) foi parcial e a continuidade de práticas do tempo da Ditadura – como a tortura, os sequestros e desaparecimentos, o desprezo pelas necessidades populares – mantiveram-se para além de 1984, exemplificando-se numa linha reta entre os casos de sequestro, tortura e desaparecimento de Stuart Angel e Rubens Paiva até o Caso Amarildo.
Uma consequência lateral, mais absolutamente fundamental, da política de “esquecimento” foi a destruição dos documentos sobre o Regime de 1964. Os arquivos militares, e de órgãos de informação, foram aparentemente, destruídos. Contudo, a implantação da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Nacional “Memórias Reveladas”, bem como a atuação do Arquivo Nacional, no governo Dilma Rousseff, resultou, até o momento, na identificação, levantamento e produção – via depoimentos – de milhares de documentos que revelam, largamente, os traços marcantes da natureza do Regime de 1964.
Na oportunidade dos 50 Anos do Golpe de 1964, a pesquisa universitária pode, em fim, produzir um número significativo de novos trabalhos, inéditos, sobre a Ditadura. Assim, novos livros, trataram das instituições do regime, do apoio civil, do papel da Igreja, da mídia, da imprensa, da universidade, da política externa e da economia, dos partidos e o perfil de vários atores do período. Trabalhos de Daniel Aarão Reis Filho, Jorge Ferreira, Marcos Napolitano, Carlos Fico, Rodrigo Patto Sá, Herbert Klein, Angela Castro Gomes, Lilian Schwartz, Marco Antonio Villa, entre outros e em chaves explicativas bastante diversificadas (além de um extenso esforço de reedições), abriu o caminho para uma releitura de 1964.
A Revista de História do Tempo Presente, visando marcar os 50 Anos do Golpe de 1964, decidiu-se pela publicação de alguns documentos significativos sobre o período, demonstrando a relevância da documentação disponível e ampla possibilidade de revisão do fenômeno histórico da última ditadura brasileira.
-

ISSN 1981-3384
No. 08 (2014)EDITORIAL: TEMPO PRESENTE E ENSINO DE HISTÓRIA
Por Profa. Dra. Margarida Maria Dias de Oliveira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Dilton Cândido S. Maynard
Universidade Federal de Sergipe
É com grande contentamento que apresentamos um dossiê sobre a relação ensino de história e tempo presente. Não porque seja o primeiro no Brasil e, realmente não é. Nossa co-irmã, a Revista Tempo e Argumento (v. 5, n. 9, 2013), inaugurou a empreitada recentemente, e a História Hoje tem conjunto de artigos aguardando publicação, desde o ano passado. O dossiê também não introduz o tema neste periódico, pois a Revista Eletrônica Tempo Presente já divulgou trabalhos sobre currículos da educação básica no Brasil e nos Estados Unidos, entre outros textos. Nos Cadernos do Tempo Presente, da mesma forma, foram abertos espaços para a análise de conteúdo nos livros didáticos de história, usos da internet na aprendizagem de história medieval. A mesma atitude tomou a História Agora ao publicar, por exemplo, resultados de investigação sobre os usos da vivência indígena e da Rebelião dos Malês em sala de aula. Isso tudo sem falar nas revistas não especializadas que veiculam textos sobre história do tempo presente, hoje pioneiros, desde meados da década passada.
Mesmo assim, entre os mais de 600 artigos publicados nos periódicos que têm como escopo o “tempo presente”, desde 2007, o ensino de história ocupa modestos 3%. Qual então o motivo de tanto regozijo? Ora, o que nos dá maior prazer no anúncio do conjunto de artigos deste volume é a concretização de um projeto incomum: reunir autores que se debruçaram sobre o mesmo conjunto de questões-chave, abordando os usos do presente no ensino de história e não apenas sobre o ensino de história no presente: como se ensina a experiência recente? Quais mecanismos a interditam? Quais as disputas que se apresentam? Que atores a produzem? Como os alunos a percebem? Como essa experiência é organizada de modo a fazer sentido para os não historiadores? Enfim, que presentes são dados a ler nos programas e livros didáticos de história de países de culturas tão diferentes situadas na América do Sul, Europa, Ásia e Oceania?
Os artigos aqui reunidos, portanto, colocam-nos em sintonia com as disputas políticas e de memória sobre o que ensinar às crianças e adolescentes na Argentina, Brasil, França, Austrália e Japão. Paralelamente, provocam reflexões sobre a incorporação e funções de temáticas do presente no ensino e aprendizagem escolar em nossa contemporaneidade, bem como de suas relações com a historiografia acadêmica.
Os textos de Gonzalo de Amézola, de Marina Silva, Luis Cerri e Felipe Soares evidenciam a complexidade do tratamento de acontecimentos traumáticos na produção de prescrições didáticas nas quais se superpõem questões referentes à memória, usos do passado e soberania nacional.
No primeiro caso, o acontecimento destacado é a Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982, entre Argentina e Inglaterra. Ao colocar em relação a produção historiográfica das três últimas décadas do século XX e princípio do XXI sobre esse acontecimento, as reformas curriculares e os manuais escolares, Amézola destaca as “dificuldades e contradições” que envolvem o ensino dessa guerra na educação “Polimodal” e “Secundária Superior”. Ele afirma que, apesar dos avanços vivenciados pela historiografia argentina, sobrevive uma abordagem marcadamente patriótica do conflito em que se entrelaçam memória coletiva (gestada, em grande medida, na escola) e interesses governamentais, atravancando a sua ressignificação histórica no âmbito escolar. A partir da experiência argentina, o autor polemiza a relação entre ciência, história e a abordagem do passado recente no ensino histórico e levanta a hipótese de que a função social do ensino de história está, secularmente, conectada à necessidade de “perpetuação do grupo”, resultando em dificuldades para a incorporação de inovações acadêmicas no que se refere a passados traumáticos.
O artigo de Marina Silva, por sua vez, analisa as representações de memórias sobre a Segunda Guerra Mundial, presentes em livros didáticos japoneses, produzidos entre 1993 e 2002. Motivada pelas críticas lançadas ao Japão em 2001 por países como China e Coréia do Sul (sobre a abordagem dos avanços militares a seus territórios), e a partir de alguns acontecimentos-chave dessa polêmica (a tomada da cidade de Nanquim, o ataque a Pearl Harbor, o bombardeio a Hiroshima e Nagasaki e a rendição japonesa), a autora evidencia a estreita relação entre experiências traumáticas e a produção de uma memória coletiva promovida e sustentada pelo governo. Os livros didáticos de história no Japão, incluindo os mais recentes, não apenas reproduzem uma narrativa cristalizada sobre a guerra como omitem informações, controlando a transmissão de memórias que se expressam pelas ideias de pacifismo e nacionalismo. Como no caso argentino, fica demonstrada a complexidade das relações entre história recente e ensino de história no que se refere a conflitos não apaziguados.
Os autores Luis Cerri e Felipe Soares, por seu turno, colocam em discussão a abordagem da ditadura militar presente no livro didático História do Brasil: Império e República (2006), editado pela Biblioteca do Exército e utilizado nos colégios militares do Brasil. O artigo ressalta e denuncia a contrariedade entre a preocupação governamental em garantir um ensino de qualidade (a partir da elaboração de políticas públicas, como o PNLD) e o consentimento, por parte desse mesmo governo, no uso de um material que se distancia do estado atual da epistemologia da história, das produções acadêmicas sobre o golpe. Essa omissão de informações, temporariamente consensuais, convida-nos também a refletir sobre as disputas memoriais em torno dos acontecimentos recentes e seu ensino escolar. Do mesmo modo, conduz-nos a pensar sobre a importância do engajamento dos historiadores nas discussões que se referem ao ensino da história do tempo presente na educação básica.
Partindo para o contexto europeu, Itamar Freitas aborda a incorporação da história do tempo presente nos programas de história para os colégios franceses, entre os anos 1998 e 2008. Esse trabalho, fruto das primeiras pesquisas que o historiador vem realizando sobre o ensino da história do tempo presente no Brasil, Estados Unidos e França, põe em relevo suas finalidades, a natureza dos conteúdos históricos e sua distribuição/progressão ao longo dos anos escolares daquele país. Dessa maneira, e somando-se aos outros artigos desse dossiê, contribui para a ampliação de questionamentos no que diz respeito às relações entre ensino, ciência história, tempo presente e formação cidadã na educação histórica escolar. Também oferece elementos para pensarmos as demandas sociais e relações de poder na contemporaneidade que perpassam a elaboração de propostas curriculares com esse teor.
Por fim, examinando o currículo nacional de história para a escolarização básica da Austrália, Jane Semeão identifica os diferentes presentes prescritos em um currículo recentemente citado como modelo para o Brasil e, na própria Austrália, acusado de alinhar-se, ao mesmo tempo, às demandas ideológicas de esquerda e de direita. Além disso, descreve as indicações de conteúdos substantivos e as sugestões de finalidades para o ensino da experiência australiana recente. Neste ponto, principalmente, seu artigo estimula-nos a pensar na arbitrariedade dos usos de termos, como “antigo”, “moderno” e “contemporâneo”, bem como das justificativas para a adoção de eventos clássicos como a Segunda Guerra Mundial para como abertura e/ou fechamento de determinados períodos. Ainda, sob a responsabilidade de Jane Semeão, está a resenha da obra Tempo presente e usos do passado (FGV, 2012), organizado por Flávia Varella, Helena Miranda Mollo, Matheus Henrique de Faria Pereira e Sérgio Da Mata.
Convidamos também o leitor a consultar o perfil de um autor que vêm provocando incômodo, por um lado, e euforia, por outro, dado que a sua teoria da história incorpora, inclusive, os usos escolares da história como um dos argumentos para a racionalidade e, por que não dizer, cientificidade da história acadêmica. Jörn Rüsen, o personagem deste número, é apresentado pelo jovem Rodrigo Yuri Gomes Teixeira.
Por fim, sob a responsabilidade de Andreza Maynard, apresentamos a resenha de um velho e conhecido filme – A Onda – comentada sob um novo regime de historicidade, haja vista que a película foi lançada no distante 1981. Que novos elementos essa representação sobre o ensino do autoritarismo no chão da escola pode nos trazer?
Esperamos, então, que a publicação desse número possa contribuir para a discussão, ainda tímida (entre os historiadores), sobre a dimensão escolar da história do tempo presente e, ainda, que estimule os pesquisadores brasileiros a empreenderem estudos em escala transnacional. Velha lição dos bancos da graduação, não é irrelevante repetir, temos muito a aprender sobre “nós”, observando os “outros” aparentemente distantes.